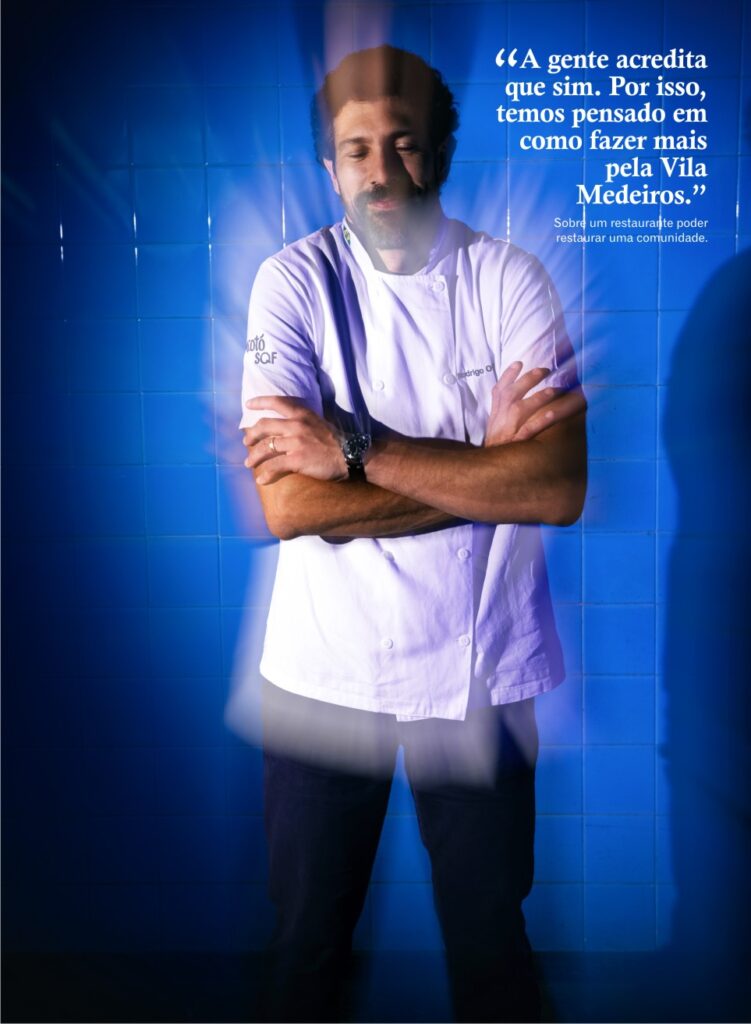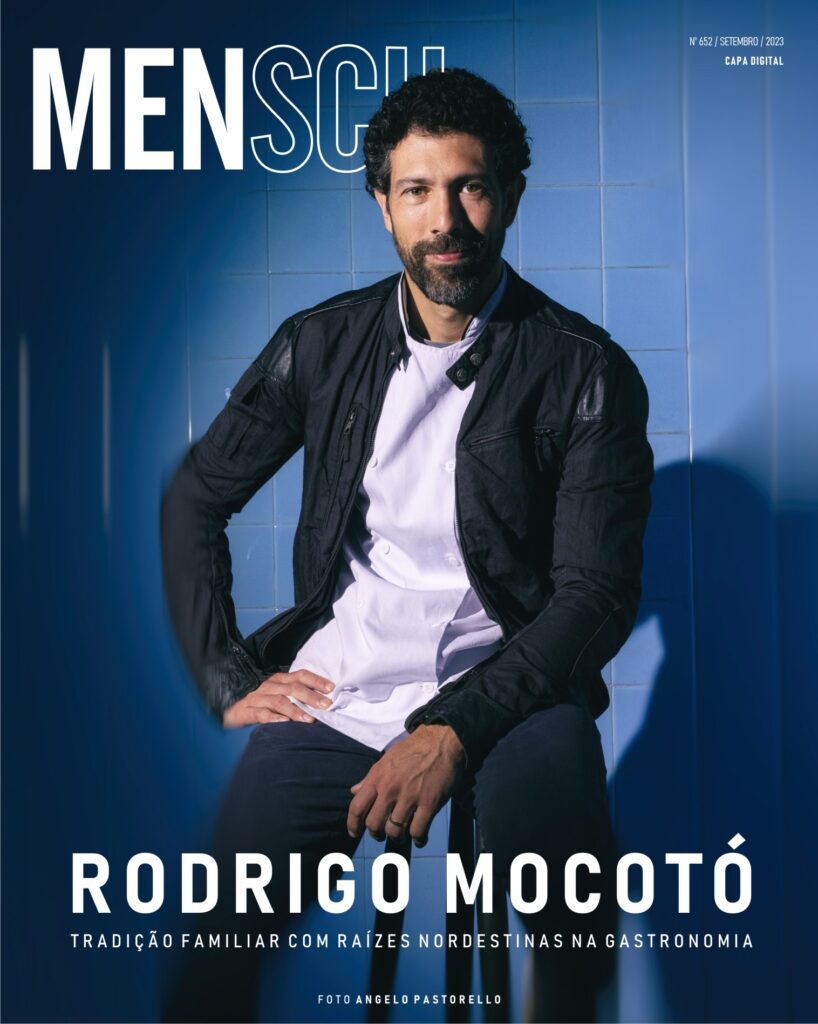
Nascido em São Paulo e reconhecido por oferecer pratos nordestinos e valorizar ingredientes típicos da região, o chef Rodrigo Oliveira Mocotó é a cara do Brasil. Filho de pernambucanos, possui forte ligação com Mulungu, distrito de Sanharó, no Agreste Central de Pernambuco. O chef que nunca esqueceu de suas raízes acaba de finalizar sua participação na décima edição do Masterchef Brasil, onde substituiu temporariamente Henrique Fogaça, com cozinheiros amadores. Entre uma gravação e outra, Rodrigo nos recebeu para um papo onde contou sua história e seu papel na comunidade onde tudo começou. Mais do que oferecer pratos que proporcionam uma explosão de sabores, ele falou sobre a verdadeira função social de um restaurante – restaurar uma comunidade.
Por Patrícia Alves / Fotos Angelo Pastorello
Rodrigo, indo lá para o início… quando descobriu que a cozinha era seu lugar? Quando descobriu essa afinidade com a gastronomia? Minhas primeiras influências culinárias foram no ambiente doméstico. A cozinha sempre foi o centro da nossa casa, onde tudo se passava, por onde todos transitavam. Minha mãe reinava absoluta naquele cenário mágico. Meu pai é um cozinheiro intuitivo, nunca teve formação na área e tampouco cozinhava, começou a cozinhar por necessidade. Só que ele tem um paladar tão fino que, mesmo sem haver na época essa tendência de comida saudável, de evitar excesso de gordura e sal, ele aplicava isso intuitivamente. Mas a afinidade com a gastronomia em si, é uma longa história. O Mocotó foi fundado pelo meu pai, José de Almeida. Ele chegou em São Paulo jovem, com zero recurso, sem educação formal. Trabalhou na feira, em metalúrgica, fundição, malharia até que, com dois irmãos, abriu uma “casa do norte”, um misto de empório e, às vezes, um bar. Vendia fava, feijão e queijo. Aí, os três começaram a se estabilizar, viram que era um negócio próspero. Resolveram montar a segunda “casa do norte” e um tempo adiante, montaram a terceira. Depois, se separaram, e cada um ficou com uma das casas. Meu pai ficou com a localizada na Vila Medeiros, onde estamos até hoje. Esse empório que tinha um “quê” de bar foi ganhando notoriedade por servir um caldo de mocotó. Nasci praticamente dentro desse lugar.

Com 13 anos, comecei a lavar pratos, servir mesa e ajudar na cozinha. Hoje, vejo que o que me levou pra lá não foi, especialmente, o apreço pela cozinha, mas a possibilidade de ficar mais perto do meu pai. Era difícil vislumbrar uma carreira ali e meu pai nunca me incentivou. Então, eu fui estudar Engenharia Ambiental, depois troquei de curso, fiz Gestão Ambiental até que conheci um cara que estudava Gastronomia. Eu perguntei “eles te ensinam a cozinhar”? Ele me disse que sim e que era aluno do primeiro curso de Gastronomia do país, na Anhembi Morumbi. Do convívio com esse cara, que se tornou um grande amigo, veio o encantamento por esse mundo, porque nossa família não tinha acesso a restaurantes – por cultura e por falta de recursos. Comecei a pensar “será que eu poderia ser cozinheiro”? Porque eu era muito diferente dos chefs que estavam nas revistas e livros. E concluí “talvez não seja o aluno mais talentoso, mas serei o mais aplicado”. Larguei a segunda faculdade e fui estudar Gastronomia.
Que influências você traz de seu pai e das raízes pernambucanas? É a comida de um povo que tem muito pouco e com isso, fazem grandes coisas. Muita gente pode achar essa cozinha restrita, mas para mim, ela é a cozinha da essência. Meu pai me ensinou a aproveitar tudo o que se tem à mão, e respeitar cada ingrediente, cada pequeno recurso. Esse respeito à essência me apaixona e me orienta até hoje.
Como você definiria a “autêntica cozinha brasileira” que tantos se referem quando pensam no Restaurante Mocotó? Aqui fazemos cozinha sertaneja, da região do interior de Pernambuco, a cozinha do sertão. Quando a gente pensa nisso, acredito que venha na cabeça das pessoas a presença da carne de sol, da fava, mandioca, abóbora, e de muitos outros itens. Foi realmente desafiador servir uma comida que muitos consideravam como pesada ou menos nobre. Pegar esses alimentos ordinários como feijão, carne-seca, fava, mocotó e fazer deles algo extraordinário, para que todos pudessem passar a entender a complexidade que tem a comida sertaneja, feita a partir da escassez. Essa é a força da cozinha sertaneja – de um povo que tem pouco e com esse pouco, fazem grandes coisas. É o valor que se atribui aos alimentos, que o fazem notáveis. Tratamos o alho com o mesmo cuidado quanto uma carne mais nobre. O alimento merece uma certa devoção, quem está por trás desse produto também.
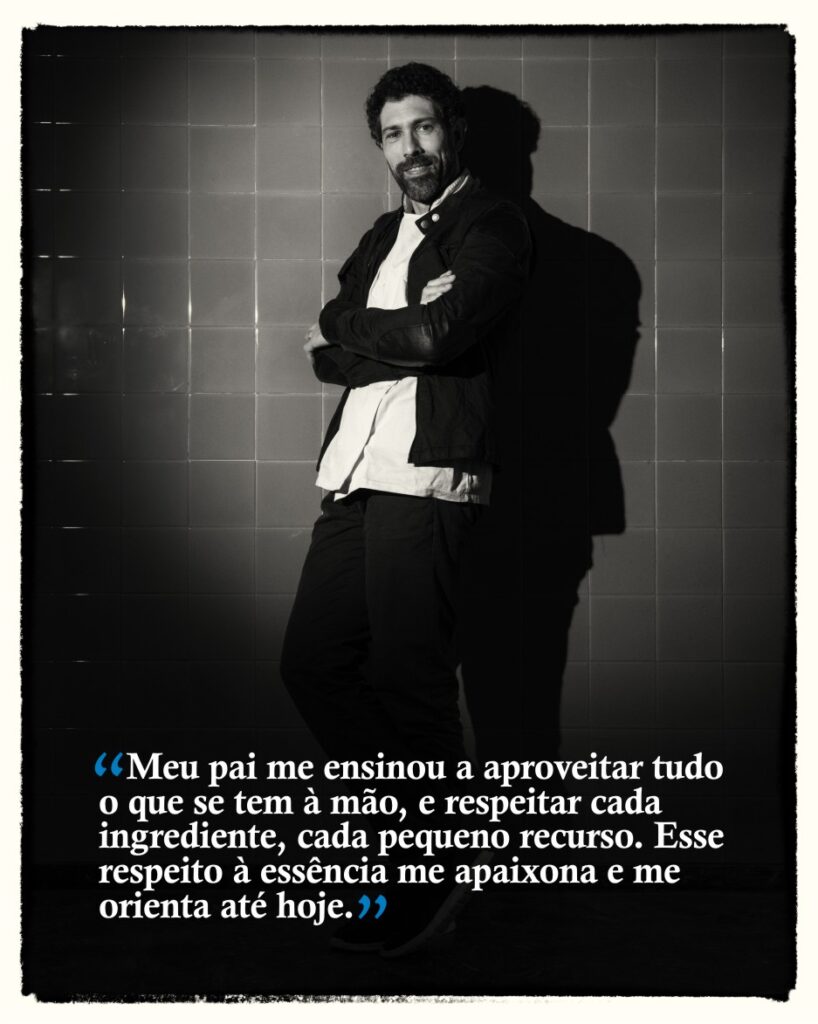
O Brasil é um país diverso em sabores e isso faz com que a gastronomia varie muito de região para região. Você poderia dizer que conhece pelo menos um pouco dessa diversidade gastronômica? O que destacaria no meio disso tudo? Sim, com certeza. Já viajei para diversos cantos do país e sempre me surpreendo com novas descobertas – seja de algum ingrediente ou modo de preparo de fazer tal prato que não conhecia, e com a riqueza de possibilidades que os ingredientes do país dão para os cozinheiros trabalharem. Ultimamente, estou encantado com os sabores da Amazônia, para onde fui algumas vezes nos últimos tempos, e por lá tenho feito descobertas incríveis como o tucupi liofilizado e outros tantos ingredientes e processos.
Você juntou os ensinamentos de seu pai com suas experiências e criou o jeito próprio de cozinhar. É isso? Como definiria sua cozinha? Acho que o ponto de virada foi quando entendemos que podíamos apresentar uma cozinha nordestina autêntica, mas por meio de uma linguagem universal. Esse é o grande feito do Mocotó – apresentar uma cozinha que sempre foi estigmatizada. O que se falava sobre a comida do sertanejo? Que era pobre, feia, grosseira, pesada. Acredito, que conseguimos reverter essa percepção. E é aí que o Mocotó se torna um restaurante notável porque, não digo que a gente cozinha melhor do que minhas tias e avós lá no sertão – longe disso, mas conseguimos criar uma linguagem que não só o público daqui entende, mas que o mundo entende como uma cozinha de valor gastronômico. É uma linguagem nova porque, se você observar as listas internacionais de restaurantes das quais o Mocotó faz parte, nenhum se parece com ele, nem na forma, nem no conteúdo.
O que aguça seu paladar? Um ingrediente, uma técnica, uma viagem e até mesmo um utensílio podem ser o gatilho para estimular o paladar, a imaginação e até mesmo resultar na criação de um prato. Estou sempre atento e curioso para tudo o que está ao meu redor.


Dentro dessa variedade nacional da gastronomia, o que você ainda não provou que gostaria muito de conhecer? Quero visitar mais comunidades indígenas em diversos cantos do país, para descobrir saberes alimentares originários.
E essa história de que você criou o famoso dadinho de tapioca, é lenda ou realidade? (risos) De onde vem isso? É realidade. Em 2004, eu estava na faculdade de Gastronomia na Anhembi Morumbi e uma colega me falou de um bolinho com tapioca que era a cara do Mocotó – com tapioca, leite, queijo minas, ovos, manteiga e era boleado. Fiz uma versão com queijo de coalho e comecei a oferecer o bolinho no Mocotó, mas sem colocá-lo no cardápio. Como era uma massa melindrosa, tinha de bolear rápido, pois logo perdia o ponto. Um dia, tive de sair da cozinha enquanto fazia a massa e, quando voltei, estava uma placa dura. Ia jogá-la no lixo, mas na hora me lembrei da polenta, que é espalhada na assadeira, cortada e frita. Testei e fiz um tijolinho frito. E deu certo. Foram muitos testes até chegar a algo mais simples – tapioca, leite e queijo coalho. Outro toque nosso é a pitada de pimenta-do-reino branca, que tem uma afinidade tremenda com os lácteos. E acertei o sal. O formato de dadinho veio depois, quando uma amiga, depois de provar o ‘tijolinho’, disse que, se fosse mais crocante, seria perfeito. Acabei, então, cortando-o em três cubos, que ficaram mais crocantes, principalmente nos cantinhos. Assim, é bem mais rápido de fazer, não precisa bolear. Foi então que batizei os “dadinhos”. É uma receita que já se espalhou por diversos bares e restaurantes de São Paulo, do Brasil e do mundo. Já soube de versões de dadinhos na França, Coreia do Sul, Canadá e Austrália, dentre outros. Ver o Albert Adrià servindo dadinhos de tapioca com trufas em um dos seus restaurantes de Barcelona, o Tickets, foi surreal.
Neste ano, o restaurante Mocotó vai fazer 50 anos (e você 30 anos de Mocotó). Em um mercado muitas vezes tão incerto, qual o sucesso do Mocotó? No começo, eu achava que o nosso negócio era sobre comida e bebida, mas não podia estar mais enganado. O centro do nosso negócio são os relacionamentos – como o restaurante se relaciona com as pessoas, a natureza, seus parceiros e o mercado, fatores determinantes de sucesso. O Mocotó foi o lugar onde eu aprendi que a missão primordial de um restaurante é restaurar a sua comunidade, no sentido mais amplo possível.

Estrelas Michelin, bairros nobres, menu sofisticado… O quanto esse status ajuda e não diz muita coisa sobre restaurantes e uma alta gastronomia? Eu acho que há momento e espaço para todo tipo de negócio. O que não pode acontecer, é achar que uma boa mesa ou a excelência está ligada a esses aspectos. Esses restaurantes existem para momentos extraordinários, não para os momentos comuns. E também acredito que, muitos deles valem cada centavo que você investe. A escolha no Mocotó é diferente. O contexto é diferente. A gente tem a inclusividade como um dos nossos valores. Queremos um lugar inclusivo e não exclusivo. Nós não precisamos estar nos Jardins ou no Itaim para servir alta gastronomia. Não precisamos de talher de prata ou taça de cristal. A nossa excelência se expressa de outras formas.
Como definiria o chef Rodrigo Mocotó hoje? Sou brasileiro, cozinheiro, chef de dois restaurantes, pai de cinco filhos – Nina, Flor, Pedro, Cora e Alice, marido da Adriana. Acredito que sou uma pessoa criativa e obstinada.
Quais seus maiores desafios superados? E o que espera superar? Acredito que o maior desafio superado, foi mostrar que excelência e inclusividade podem andar lado a lado. É isso que fazemos no Mocotó. Espero poder fazer mais por nossa comunidade. Há anos, tem um pensamento que me inquieta, desde uma conversa que tive com a historiadora Adriana Salay, minha esposa. Ela perguntou para que serve um restaurante. Falei de uma maneira muito floreada que é um elo entre a natureza com a cultura, da expressão do menu, entre outras coisas. Ela respondeu “É bonito, mas o restaurante serve essencialmente para uma coisa, fazer com que as pessoas saiam melhores do que entraram”. Isso me deu um estalo, a gente tem que restaurar as pessoas não só fisiologicamente, mas uma restauração emocional e intelectual.
Um restaurante pode restaurar uma comunidade? A gente acredita que sim. Por isso, temos pensado em como fazer mais pela Vila Medeiros.