
 artimos de Recife em uma viagem de mais de 600 km. Na estrada, fomos vivenciando uma paisagem que nos trouxe mudanças climáticas, de relevo e solo. No percurso a que nos submetemos, as reviravoltas também aconteceram em nós por todo aquele impacto, por toda aquela expectativa de vivenciar algo incrível.
artimos de Recife em uma viagem de mais de 600 km. Na estrada, fomos vivenciando uma paisagem que nos trouxe mudanças climáticas, de relevo e solo. No percurso a que nos submetemos, as reviravoltas também aconteceram em nós por todo aquele impacto, por toda aquela expectativa de vivenciar algo incrível.
À vista, as retas pediam concentração na direção do carro, mas o apelo ao lado, num repente, atraíam-nos os olhos: lá estavam a vegetação que passava, os cenários que iam dos canaviais aos flecheiros, dos flamboyants, com sua exuberante floração do laranja ao vermelho profundo, aos mandacarus, aos capins rosa chá que se alastravam na beira da estrada, às algarobas e fruteiras adaptadas aos climas diversos. Na mente, só um pensamento: conhecer um povo, uma história, ter contato com todo esse universo.
Tacaratu, dos patamares compridos e baixas vertentes, cidade que já na sua etimologia traduz a origem, seu princípio indígena, pois é, em seu aspectos topográficos, a própria tradução do nome: serra de várias pontas e cabeços – fruto da linguagem Kiriri dos povos Pankararus.
Entre o contato com essa sensação semiárida, que nos invade com o céu de azul escandaloso, e uma vista que demonstra a peleja de um povo, das casas pintadas a cal, dos telhados feitos de ribas e barrotes, e da constatação da natureza e dos manejos incertos e mal planejados do homem, íamos adentrando em um novo universo. À frente, após muitos quilômetros avançados, nos deparamos com um mundo de água… E uma intervenção, no aspecto sociogeográfico: a transposição do Rio São Francisco. Uma lástima? Uma possibilidade? Um meio para as várias vidas que de seca em seca viveram e vivem? Mas as águas desse santo, desse ícone e salvador de tantos, nos enfeitiça. O Chico, mesmo sofrido e castigado por tantas intempéries, estava ali, pleno. E nos sentimos parte dele, e ele nos levou aos seus zeladores – os Pankararus.
A origem de toda essa trama, em que iremos imergir, vem há muito tempo do deslocamento dos índios das cavernas na serra da Cana Brava, oriundos da Ilha de Surubabel, Acará e Várzea (Paulo Afonso e Itaparica) e a reunião deles, através dos ciclos migratórios, das terras do brejo dos Padres. Da maloca onde se reuniram os povos Pankararus, Umaús, Vouvêa e Geriticó às vilas que se seguiram sobre a coordenação dos jesuítas à beira do Rio São Francisco, Tacaratu se fez.
Entre perdas territoriais, inundações nas regiões de assento, os Pankararus se uniram e, mesmo sob muitas influências das missões jesuíticas e da conversão ao cristianismo, eles conseguiram de alguma forma preservar as suas tradições.
A nossa viagem e vivência se entremearam com esse fato histórico. Os Pankararus, sendo uma comunidade migratória, caminharam em busca de paz, de uma vida pacata, com base alimentar coletora, agrícola e de caça, a fim de poderem viver a sua religiosidade. Um povo que não aguentava maus tratos. Muitos se encantaram para não se submeterem aos açoites de seus algozes, os coronéis.

Depois de algumas paradas estratégicas, para matar a fome e a sede visual, fomos nos integrando com o local. Comemos, à beira do Chico, uma tilápia assada, peixe que hoje faz parte de um projeto piscicultor da região do Moxotó. Seguimos cheios de vontade. A estrada, então, era um barro vermelho que fazia pó e acompanhava as cercas que revelavam casas com portas fechadas, possivelmente, devido à festa que nos esperava, a Colheita do Umbu.
E essa era a nossa missão: viver esse momento que nos introduziria na tradição, no respeito ao alimento e na sua devida importância para a subsistência de toda uma comunidade. Umbu, fruto do umbuzeiro, que simboliza, por sua braveza, a resistência e o sustento, porque tudo dele se come: a raiz, com seu aporte de água, a batata, que cresce em sua raiz e que tem um sabor apreciável, e o fruto ácido, na medida certa e marcante.
Quem nos recebeu já nos cumulou de delicadezas: Bia e D. Neide, mulheres valentes e guerreiras. D. Neide, a lutadora parteira da tribo, nos permitiu entrar em seu roçado e nos recepcionou com um sorriso largo e, cheia de boas graças, nos apresentou o umbu, o licuri, fruto de uma palmeira, e o murici, que faz o ar ser invadido pela sua presença forte. Um cheiro que denota o seu alto teor de glicose. Mas havia ainda mais estrada, e o nosso tempo corria numa velocidade feroz, então, seguimos a rota e, mais à frente, encontramos Bárbara, outra guerreira, a líder feminina que nos acolheu em sua casa e nos permitiu vivenciar um momento seu e do seu povo.

RITOS E CULTURA MILENAR
Observar a vida dos Pankararus nos trouxe muitas questões, nos permitiu outras tantas análises da vida simples, dos problemas em comum que vivemos nesse planeta, do ato de comer o que se tem e produz, de ter muitos sonhos, de se contentar com o pouco. A noite invadiu nossas vistas e, depois do banho de cuia, fomos viver, sob um céu estrelado de negro infinito, um rito sagrado.
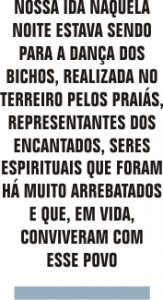 A Corrida do Umbu (ou festa da colheita) começa com a primeira floração e o desabrochar do fruto que é flechado por um índio. Ao longo do mês, durante quatro semanas, entre os meses de fevereiro e março, vão transcorrendo vários preceitos e ritos religiosos. Nossa ida, naquela noite, estava sendo para a Dança dos Bichos, realizada no terreiro pelos Praiás, representantes dos encantados, seres espirituais que foram, há muito arrebatados, e que, em vida, conviveram com esse povo. Apresentavam-se com vestes da palha de ouricuri e caroá. Assim que entramos naquele lugar, avistamos um agrupamento: eram várias famílias que, juntas, se espalhavam deitadas ou sentadas no chão pedregoso, com seus cobertores, a assistirem aos compassos das danças, fumavam uma mistura de ervas com seus cachimbos de barro e tomavam a garapa, líquido açucarado por rapadura. Tudo, ao som dos pífanos. E, no vaivém, agiam como hipnotizados. Ficamos ali toda a madrugada, vendo os animais serem representados: tamanduás, papagaios, porco, boi e tantos outros. E o dia se fez.
A Corrida do Umbu (ou festa da colheita) começa com a primeira floração e o desabrochar do fruto que é flechado por um índio. Ao longo do mês, durante quatro semanas, entre os meses de fevereiro e março, vão transcorrendo vários preceitos e ritos religiosos. Nossa ida, naquela noite, estava sendo para a Dança dos Bichos, realizada no terreiro pelos Praiás, representantes dos encantados, seres espirituais que foram, há muito arrebatados, e que, em vida, conviveram com esse povo. Apresentavam-se com vestes da palha de ouricuri e caroá. Assim que entramos naquele lugar, avistamos um agrupamento: eram várias famílias que, juntas, se espalhavam deitadas ou sentadas no chão pedregoso, com seus cobertores, a assistirem aos compassos das danças, fumavam uma mistura de ervas com seus cachimbos de barro e tomavam a garapa, líquido açucarado por rapadura. Tudo, ao som dos pífanos. E, no vaivém, agiam como hipnotizados. Ficamos ali toda a madrugada, vendo os animais serem representados: tamanduás, papagaios, porco, boi e tantos outros. E o dia se fez.
Voltamos no compasso do cansaço (os pés pareciam não nos obedecer), mas chegamos, e o sono nos calou. Ao amanhecer, já seguimos para a feira local. Ali, as bancas vendiam de tudo: carnes penduradas nos ganchos, as frutas da época, cerâmicas próprias desse povo e produtos industrializados. A feira ficava na frente da igrejinha católica. O trânsito de motos e carros demostrava que a modernidade já havia há muito invadido o lugar. Com ela, alguns prejuízos à simplicidade do lugar. Na feira, compramos insumos para realizar um almoço tradicional, o munguzá salgado.
Antes do preparo da refeição, porém, decidimos voltar à casa de D. Neide para tomar com ela o café de caco, uma receita tradicional da avó e dos antigos Pankararus (o grão é torrado, misturado com rapadura e fervido até virar melaço; esfriado na cinza do fogo da lenha e, então, pilado; depois, é tomado em goles generosos de felicidade). E, assim, foi. Entre uma conversa e outra, D. Neide e Bárbara nos contavam sobre a vida diária. O suco à mesa era de murici, e elas relatavam, entre risos e lágrimas, as festas, as agruras, os momentos de seca, as comidas que, descritas, nos enchiam de vontade de comê-las. D.Neide, em seus pensamentos cheio de saudades, nos falava dos atos corriqueiros, da falta de seu pai, um mestre da arte do pífano, da festa e também dos sofrimentos desse povo para se manter unido e sobreviver. Bárbara e ela nos contaram sobre a Purnunsa, espécie de mandioca resistente ao clima árido, e os mingaus preparados pelas mães (as raízes eram raladas, e o líquido fermentado escorria) para sustentarem a vida dos filhos.

Depois desse momento de êxtase e desse banho de pureza, seguimos para realizar o nosso almoço. Os grãos de milho amarelo foram deixados para amolecer na água, o feijão de corda debulhado; tudo, colocado na água fervente, com pimenta de cheiro, cebola, pimentão e coentro, umas pitadas de colorau e cominho, uns pedaços de linguiça e carne seca; algumas horas no fogo, e lá estava pronta a refeição, servida, com arroz branco, em pratos de barro, mais um gole de vinho de jurubeba. Enfim, voltamos ao terreiro.
Estávamos, então, diante da cerimônia da entrega das ofertas. Mulheres, pintadas com riscos próprios feitos de barro branco nas pernas e nos rostos, com cestos generosos de comidas, dançavam juntos aos Praiás. Cantadores entoavam cânticos em tupi-guarani sobre a vida dos encantados. Uma multidão reunida para assistir às danças, em círculos, ao redor das catingueiras sagradas, aumentava, e o calor nos embriagava. Os ritos iam se estendendo e, ao longo da celebração, fomos passando em outros terreiros até, ao final, ver a Cerimônia da Cansanção, em que o homem tenta proteger a mulher dos golpes da urtiga (cansanção). Por fim, terminou com o Toré (ritual religioso que une dança, luta e brincadeira), no qual todos os participantes do culto se juntavam aos Praiás para foliarem freneticamente.
PASSADO E PRESENTE
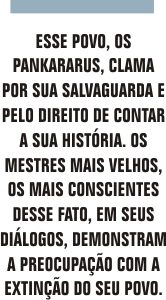 Ali, assistindo, vi que, de alguma forma, fui chamada àquele lugar, naquele momento. Vi também que aquele povo vive e se alicerça na identidade de fé, de rito, de legitimidade. Para eles, alimentar-se significa comer o que se colhe, o que se tem e o que se pode adquirir de forma natural. Vi ainda que os seus antepassados serão sempre lembrados como espíritos protetores, que há uma necessidade de trabalhar junto com os jovens para que possam se orgulhar da própria história e para conscientizá-los de que a mesma luta de ontem é a de hoje e será a de amanhã – com o respeito à tradição e aos preceitos religiosos.
Ali, assistindo, vi que, de alguma forma, fui chamada àquele lugar, naquele momento. Vi também que aquele povo vive e se alicerça na identidade de fé, de rito, de legitimidade. Para eles, alimentar-se significa comer o que se colhe, o que se tem e o que se pode adquirir de forma natural. Vi ainda que os seus antepassados serão sempre lembrados como espíritos protetores, que há uma necessidade de trabalhar junto com os jovens para que possam se orgulhar da própria história e para conscientizá-los de que a mesma luta de ontem é a de hoje e será a de amanhã – com o respeito à tradição e aos preceitos religiosos.
Não obstante, esse povo, infelizmente, vem sendo lentamente descaracterizado, tendo sua alimentação alterada, devido à introdução de novos insumos, e perdendo a sua originalidade, uma vez que muitos jovens estão abandonando seus antigos costumes em troca dos hábitos que chegam através da televisão que já faz parte de todas as casas. Esse povo, os Pankararus, clama por sua salvaguarda e pelo direito de contar sua história. Os mestres mais velhos, os mais conscientes desse fato, em seus diálogos, demonstram a preocupação com a extinção de seu povo. E essa realidade nos causa comoção e inquietação pela, talvez, iminente perda dessa rica cultura.
Com esse pensamento e com a compreensão dessa realidade vivida por eles e por nós, após alguns dias de visita, saímos de lá no princípio da noite – não sem antes nos fartamos de umbuzada e de uma vasta beleza nativa. Seguimos a estrada de terra ao clarão da lua, imbuídos do desejo de contar sobre as tantas Neides, Bias e Bárbaras que sonham, que lutam pela perpetuação de suas crenças, de seu povo e de sua fé. Saímos de lá mais ricos e convencidos do senso de responsabilidade que exige que sejamos mais uma voz na busca da preservação do legado dos PANKARARUS.


Agradecimentos à Maria Bárbara de Oliveira Silva, ao pajé Francisco, D. Neide e Bia, representantes e ativistas da causa dos povo Pankararu e a Sofia Hunka, pela força de seguir comigo nessa linda aventura.


